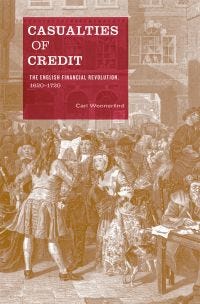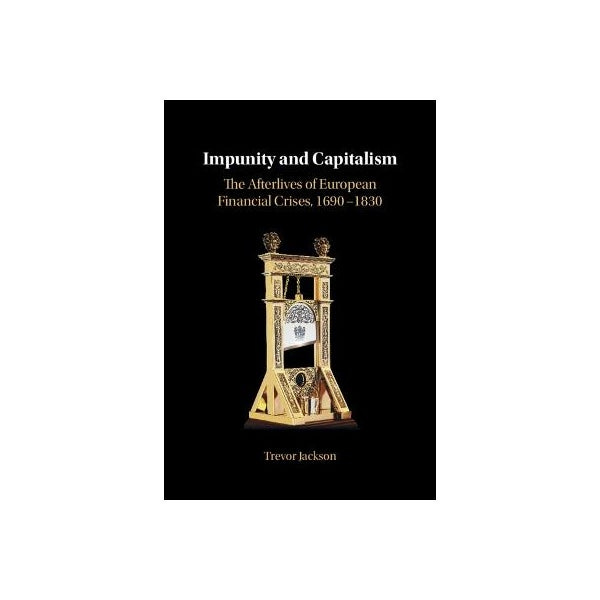Moeda e Crédito na Aurora do Capitalismo
(Se gostarem do conteúdo, por favor partilhem e subscrevam)
Introdução
Desde a Crise Financeira Global de 2008-09, o interesse sobre moeda, crédito e instituições financeiras tem sido considerável, com a publicação de muitos livros sobre moeda e a sua história. Tal interesse, salvo algumas exceções, como Barry Eichengreen, não é partilhado pela teoria económica convencional, de raiz neoclássica. Esta tinha e tem pouco a dizer sobre moeda e crédito. A razão para esta negligência pode ser surpreendente para o comum dos mortais.
Para a teoria neoclássica a moeda é neutra. Ela não tem propriedades específicas que afetem a economia. Ela é só mais uma mercadoria, como as bananas, sujeita à “lei” da procura e da oferta. Dado que os preços estão marcados nesta mercadoria (número de bananas), o seu valor de mercado reflete-se nos preços relativos de todas as outras mercadorias, inflação ou deflação (se se produzirem mais ou menos bananas, a única coisa que vai mudar são o número de bananas necessário para comprar algo). A moeda afeta apenas os preços, não afeta diretamente a produção. Basta olhar para a lista de prémios de Economia em memória de Alfred Nobel e não encontraremos muitos nomes que se tenham dedicado ao assunto, com as notáveis exceções de Milton Friedman, em 1976, e de Douglas Diamond e Philip Dybvig (com o discípulo de Friedman, Ben Bernanke), do modelo Diamond-Dybvig sobre corridas a bancos, em 2022.
Nas ditas correntes heterodoxas da economia, sobretudo na teoria pós-keynesiana e marxista, a moeda adquire um papel particular na economia capitalista, sendo certamente uma das linhas divisórias destas correntes com a economia neoclássica. Da teoria da preferência de liquidez de Keynes, ao capital portador de juro de Marx, passando pela mais recente hipótese de instabilidade financeira de Minsky, a moeda e os seus mercados, os mercados financeiros, e as suas especificidades explicam mecanismos internos de prosperidade, crise e desigualdade do capitalismo.
Da crise de 2008 surgiram tentativas de arqueologia monetária, que procuram corroborar entendimentos contemporâneos da moeda, encontrando uma qualquer essência transhistórica à moeda, normalmente assente em duas instituições, mercado ou Estado, conforme a inclinação política. Contudo, a conceptualização destas instituições vai também transcender diferentes modos de produção. Uma abordagem mais frutuosa para entender a moeda e o crédito parece-me residir na análise da sua evolução histórica e a paralela evolução e transformação institucional de Estados e mercados. Vale, assim, a pena concentrarmo-nos no período da ascensão política burguesa e emergência do capitalismo de finais do século XVII e início do século XVIII em França e em Inglaterra, quando se dá o que a historiografia chama de “Revolução Financeira”, constituindo, com a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, o tríptico das origens do capitalismo.
Três livros, publicados nos últimos dez anos, tratam exclusivamente das questões financeiras deste período da história moderna. Dois deles com títulos aparentemente contraditórios: Casualties of Credit (Vítimas do Crédito), de Carl Wennerlind, e Impunity and Capitalism (Impunidade e Capitalismo), de Trevor Jackson. O primeiro é dedicado quase exclusivamente ao longo século XVII inglês da Revolução Financeira, enquanto o segundo começa nesse período para alcançar a Revolução Francesa e subsequentes reconfigurações financeiras. Neste artigo, ficamos só pela primeira parte do livro de Jackson. O terceiro livro, Money for Nothing, de Thomas Levenson, é um livro de divulgação, aqui aplicada à história da Companhia dos Mares do Sul, uma das primeiras bolhas especulativas, com recurso a divertidas historietas, com personagens historicamente famosos, de Isaac Newton a Jonathan Swift. Na verdade, nessa toada, todos eles recorrem a um dos mais famosos cronistas financeiros do período, Daniel Defoe, mas famoso por “Robinson Crusoé”, personagem dos livros de microeconomia de qualquer estudante de economia.
Os pensadores
O livro de Wennerlind começa pelo debate intelectual do século XVII e como ele moldou as novas instituições financeiras que “revolucionaram” a economia britânica e moldaram a sua liderança internacional. A abordagem combina a importância do emergente pensamento científico (e probabilístico) inglês na economia política da época com a formação deste Estado moderno, construído nos alicerces da violência penal e militar da sua reconversão burguesa pós-Revolução Gloriosa (1688) e da expansão imperialista, enquanto condições ideológicas e institucionais para as relações de crédito modernas.
O Reino Unido atravessou o século XVII com um crónico problema de falta de moeda. Num momento de expansão de mercados nacionais, produto dos famosos acercamentos, e internacionais, com o colonialismo, a escassez de moeda, na forma de metais preciosos, tornou-se um constrangimento ao desenvolvimento. Os autores mercantilistas, como Malynes, Misselden (o criador da ideia de balança de pagamentos) e Mun entendiam que a única solução para o problema seria uma balança de pagamentos superavitária, que conduzisse à entrada de ouro no país, seja por excedentes comerciais, seja pelos fluxos de capitais, (criados pelo colonialismo e pela rivalidade interimperial). O crédito desempenha um papel secundário nestes pensadores, como solução ao problema da falta de moeda. De facto, estávamos diante de mercados predominantemente privados, muito fragmentados, onde a força da lei era diminuta, não fornecendo a necessária confiança nas relações de crédito para lá do crédito comercial. Inspirados por Aristóteles, estes pensadores entendiam a moeda como um dispositivo de justiça promotor da equalização e integração de diversas mercadorias e atividades. No entanto, num mundo em que a acumulação de moeda começava a tornar as hierarquias sociais mais desiguais, mas também mais fluídas, a acumulação e especulação monetárias violariam o propósito da moeda. Autores como Malynes e Misselden advogavam a intervenção do Estado, não só no protecionismo comercial, de forma a conseguir os desejados excedentes externos, mas na regulação do luxo e do comércio, com a criação das companhias comerciais, como forma de regulação monetária.
No final do século XVII, o debate monetário e financeiro tem novos contributos. É divertido encontrar pensadores no livro de Thomas Levenson, como Edmond Halley (o do cometa), Isaac Newton e William Petty, personagens centrais da revolução financeira, seja pelos seus contributos matemáticos de cálculo atuarial, como Halley e, sobretudo, como atores políticos centrais, como Newton enquanto “Mestre da Cunhagem”. Todos também serão futuros investidores na Companhia dos Mares do Sul. Petty, que enriqueceu pelo seu trabalho estatístico aplicado à colonização da Irlanda, faz parte de uma importante corrente de pensamento dedicada ao problema da falta de moeda: os alquimistas do Círculo de discussão Samuel Hartlib. Este círculo surge não como um grupo interessado no enriquecimento pessoal, mas a alquimia como solução ao problema endémico da falta de ouro em circulação, na linha da revolução científica fundada por Francis Bacon.
Para os alquimistas, a moeda é entendida como dispositivo ativador de recursos naturais e humanos e, logo, da prosperidade. Na sua tentativa de criar moeda, estes pensadores conseguiram ultrapassar a ideia de moeda enquanto metal para a expandirem para a criação de moeda por via do crédito comercial e do papel-moeda, garantida por ativos, já em voga na Holanda e em cidades italianas. Surgem assim as primeiras propostas de moeda nacional, normalmente apoiada num ativo sinónimo de riqueza e estabilidade, a terra, através dos “bancos de terra” ou da propriedade da Coroa. Mais do que um dispositivo de equilíbrio e justiça, a moeda é aqui um dispositivo de prosperidade e de combate à pobreza. No entanto, para este grupo, a gestão monetária teria de estar distante das massas populares e mesmo do suserano, num elogio da tecnocracia que não é longínquo da presente defesa de bancos centrais independentes. Seriam as condições gerais do crédito e da sociedade que permitiriam a estabilidade monetária. A confiança, essa base social não mercadorizada, está no centro das discussões monetárias até aos nossos dias.
A revolução financeira em Inglaterra…
As ideias de moeda nacional, estável, regulada por um banco nacional passaram da teoria à prática na última década do século XVII. Um dos componentes da revolução financeira inglesa, nascida destas discussões, foi a fundação do Banco de Inglaterra. Embora não tenha sido o primeiro banco nacional (esse título vai para o Banco de Amsterdão), o Banco de Inglaterra aparece como solução para a falta de moeda, emitindo papel moeda, apoiado em reservas fracionadas na forma de metais preciosos depositados. A emissão de papel como promessa futura de pagamento não era novidade. Os bancos privados, com origem nas atividades de ourives e, sobretudo, do crédito comercial dos mercadores faziam uso dessas promessas de pagamento. No entanto, um banco geral (não central), como o Banco de Inglaterra, permitia a emissão de papel-moeda crédito de forma homogénea e expandida, cruzando as diferentes geografias e atividades económicas inglesas – uma quase moeda nacional, usada para financiar a Coroa.
Curiosamente, a criação deste proto-banco central não surge como solução de engenharia financeira para o problema da falta de moeda, mas sim como resposta institucional aos problemas de financiamento da Coroa inglesa nos seus esforços militares. A guerra sempre esteve e está no centro da inovação e desenvolvimento financeiros. Os acionistas do banco emprestaram o capital investido no banco, na forma de promessas de pagamento em papel a ser usado como moeda. A Coroa fazia valer o seu poder para garantir a confiança na moeda de duas formas. Por um lado, pela crescente capacidade de cobrar impostos (sobretudo alfandegários), o que garantia um pagamento anual aos seus credores, acionistas do banco, de oito por cento ao ano. Por outro lado, se a violência teve um papel crucial a montante desta inovação financeira, também o teve a jusante. O Estado fazia uso da violência para garantir que as moedas guardadas no banco, suporte do papel moeda, tinham o seu valor metálico preservado. A falsificação era passível de pena de morte.
A revolução financeira também foi um mecanismo de redistribuição de rendimento para os mais ricos, os credores. A emissão de papel-moeda estava condicionada pelas reservas de metais preciosos depositados no Banco. Ora, com décadas de falsificações e recortes, a quantidade de metal em circulação estava desfasada em relação ao valor nominal das moedas. Inicia-se assim uma discussão sobre a recunhagem de moeda, com dois campos: o do reconhecimento da desvalorização metálica das moedas em que o valor cunhado não corresponderia à quantidade de metal da moeda; o da recunhagem que preservasse o peso metálico e, assim, o valor internacional da moeda. A discussão de então, como a de hoje, refletia divisões de classe, com os defensores do valor intrínseco da moeda enquanto metal, como o filósofo John Locke, ligado aos interesses imperiais, que precisavam de efetuar pagamentos internacionais, como o livro mostra, face à proposta de desvalorização monetária, consciente dos custos sociais da deflaçao interna forçada pela revalorização monetária. No final, foi a proposta de Locke que venceu. Executada por Newton, com uma razão de preços em Inglaterra entre a prata, mais usada enquanto moeda, e o ouro, que favoreceu o último naquilo que veio a ser o padrão-ouro.
Embora, a “grande recunhagem” tenha, de facto, gerado deflação na economia inglesa, Wennerlind argumenta que, ao contrário do que muita historiografia sugere, esta cunhagem foi central para, por um lado, o estabelecimento dos interesses burgueses da confiança e estabilidade monetária e, por outro, para a afirmação concomitante do Estado no seu monopólio sobre a moeda e o seu valor. Tudo isto devidamente policiado por Newton que, aparentemente, chegou a trabalhar disfarçado em busca de falsificadores. No seu primeiro ano como “Mestre da Cunhagem” condenou 23 pessoas à morte.
Se a moeda era entendida como sagrada nesta ordem inicial do capital, a ser defendida pela violência de Estado burguês em busca de legitimidade, é também a violência, fora de fronteiras, que dará um contributo ao desenvolvimento do crédito como hoje o conhecemos. Com a Guerra da Sucessão Espanhola do início do século XVIII a exaurir o Tesouro real, novas formas de financiamento público são exploradas, de loterias públicas e a vários títulos de dívida, de várias proveniências (do Rei à Marinha), normalmente apoiadas em impostos específicos. A solução encontrada para esta miríade de títulos públicos custosos ficou para a história como uma das primeiras bolhas (e fraude) financeiras, da história do capitalismo: a criação da Companhia dos Mares do Sul.
Este escândalo perdurou durante décadas na psique britânica. Os escritos posteriores de David Hume e Adam Smith e o seu ceticismo em relação a qualquer engenharia financeira são reflexo deste trauma. A Companhia não foi criada como mera companhia comercial, como a famosa Companhia das Índias Orientais. Ela combinava um esquema financeiro com um empreendimento comercial imperial. Os detentores de títulos públicos de dívida trocariam tais títulos (na altura com um preço de mercado abaixo do seu valor facial) por ações desta nova empresa, fixadas em 100 libras. Uma troca de dívida por ações. O Estado comprometia-se a pagar 6% em toda a dívida agora detida pela companhia. Ademais, a companhia teria o monopólio do tráfico de pessoas escravizadas do Atlântico com o império espanhol. A inovação financeira combina-se com a violência colonial e escravista e a especulação com os futuros lucros vindos deste tráfico.
A companhia convenceu, com bastante corrupção política à mistura, o parlamento à expansão desta troca de dívida, sempre paga ao par, as 100 libras, mas com os preços das ações cada vez mais elevados. A diferença era ganha pelos acionistas pré-existentes. Por outro lado, as sucessivas emissões de novas ações começaram a ser oferecidas através de crédito, com a promessa que o comprador pagaria a sua dívida com a futura valorização, no que hoje se consideraria uma posição “alavancada”. De forma sofisticada, a Companhia vendeu derivados sobre as suas ações, como as hoje populares “opções”, e começou a comprar as suas próprias ações por forma a artificialmente insuflar o seu preço, na altura ilegal, hoje comum, os famosos “buybacks”. Estavam criadas as condições para a bolha que se seguiu, onde diferentes subscrições públicas eram oferecidas a preços de mercado cada vez maiores, atingindo 1000 libras em menos de um ano. Os 240% de valorização da NVIDIA de 2023 não parecem tão impressionantes.
A companhia dos Mares do Sul obteve o seu sucesso inicial devido ao apoio legal e suporte financeiro do Estado. No entanto, a sua dinâmica especulativa só pode ser entendida pelas promessas de rendimento futuro do mercado de pessoas escravizadas. Essa promessa não foi cumprida. Embora a companhia tenha traficado milhares de pessoas escravizadas no Atlântico, os recorrentes conflitos militares com Espanha depressa fecharam este mercado. As receitas da dívida pública não justificaram o preço da ação. O preço colapsou e com isso as perdas tornaram-se colossais. Os diretores da Companhia não só realizaram as suas fortunas antes do colapso, como escaparam na sua maioria a condenações judiciais, num contexto onde o tamanho do escândalo atingiria toda a elite política corrupta do período. Contudo, é certo que a Companhia dos Mares Sul foi a par da fundação do Banco de Inglaterra e da grande recunhagem um dos pilares da Revolução Financeira, já que permitiu a não só a inovação financeira, como a centralização e gestão moderna dos títulos de dívida pública, espinha dorsal dos mercados financeiros até aos nossos dias, aumentando a capacidade de financiamento e atuação do Estado.
… fraude em França?
É na interseção entre imperialismo, emergência do Estado moderno e crises financeiras, que Trevor Jackson analisa os escândalos financeiros no que o historiador chama de longo século XVIII (até à crise de 1825 em Inglaterra). Jackson mostra o carácter seletivo da violência de Estado na proteção da moeda e crédito, deixando zonas de privilégio e impunidade a quem foi experimentando com a fraude e a engenharia financeira. Embora pouco discutida pelo autor, tal impunidade não diz só respeito aos interesses de classe, mas também à origem de classe dos protagonistas. O autor vai além do período da revolução financeira e para lá de Inglaterra para analisar os precedentes e consequências do escândalo da Companhia dos Mares do Sul inglesa, a Companhia do Mississipi francesa e o papel do “ministro das finanças” de França, o famoso John Law (aliás também tratado nos dois outros livros aqui referidos). Para lá do folclore que rodeia a personagem de John Law, de assassino (num duelo) a golpista, o seu “sistema”, parecido com o da Companhia dos Mares do Sul, antecipou muitas das inovações financeiras hoje comuns, sendo a mais notória o recurso generalizado do papel-moeda fiduciário, sem garantia em ativos, e a um protobanco central com essa responsabilidade.
A França, em guerra permanente nos séculos XVII e XVIII, enfrentou os mesmos problemas financeiros de Inglaterra, mas sem os mercados financeiros (de crédito e bolsista) que facilitassem a dívida pública. Os mercadores ainda eram aqui a fonte de crédito e a circulação monetária era feita sobretudo com letras comerciais ou de câmbio (bills of exchange), não muito diferentes dos modernos cheques endossáveis (estranhos a alguém com menos de trinta anos). O mercado de crédito estava assim muito mais pessoalizado, o que abriu o espaço para personagens como Samuel Bernard, fundador da companhia da Guiné, dedicado ao tráfico de pessoas escravizadas, e principal financiador de Luís XIV, que faliu e obrigou ao salvamento por parte da Coroa, ou John Law já no reinado de Luís XV. A arquitetura financeira engendrada por Law espelha a Companhia dos Mares do Sul, comprimindo a revolução financeira inglesa e levando-a mais além. Começou por criar um banco “geral” à imagem do Banco de Inglaterra, na tentativa de centralizar e gerir o crédito público, tendo também responsabilidades na cobrança de impostos, agindo assim como Tesouro. Este banco foi, por sua vez, fundido com a Companhia do Louisiana, dedicada à colonização da América do Norte e deu origem à Companhia do Mississipi. Mais uma vez, a história financeira moderna é moldada pelo imperialismo europeu.
A nova companhia começa a oferecer a troca de títulos de dívida pública por ações da empresa, sempre com a promessa de futura valorização das ações. No caso francês, tirando partido da fusão banco-companhia, garantia-se a convertibilidade das ações da companhia do Mississipi em papel-moeda emitido pelo banco. Papel não convertível em ouro, a grande novidade financeira deste episódio que nos acompanha até aos nossos dias. (Esta não foi, contudo, a primeira experiência com papel-moeda na história da humanidade: o império chinês teve várias experiências durante a Idade Média.) A obrigatoriedade de pagar impostos com estes papéis e de vender todo o ouro ou prata ao tesouro sustentou a procura deste papel-moeda. Além de integrar novos monopólios fiscais, de taxação, e comerciais, como o das pessoas escravizadas da Companhia do Senegal, Law começou a emitir mais papel-moeda por forma a comprar as ações da companhia e insuflar o seu valor. Nada de muito diferente do que fazem hoje os bancos centrais, quando criam moeda para manter preços de títulos de dívida nos mercados monetários. O problema da análise de Jackson é a adoção pouco crítica da conceção quantitativa da moeda, ao argumentar que teria sido a excessiva emissão monetária a responsável pela criação de uma situação de hiperinflação, arruinando esta inovação financeira. Como Levenson mostra, o pecado original em França foi a garantia de preço, dada aos acionistas da Companhia, a que poderiam sempre vender as suas ações; venda esta financiada pela emissão monetária. Preocupado com essa emissão excessiva, Law acabou com a garantia, o que desvalorizou as ações. Ainda tentou restabelecer a garantia, mas a verdade é que as atividades comerciais da Companhia não suportavam esta emissão de ações e logo, da moeda, de fato, apoiada nos lucros da companhia. Ao colapso das ações, seguiu-se o colapso do valor da moeda fiduciária e, sim, a inflação. Tal como Bernard ou os responsáveis da Companhia dos Mares do Sul, a queda de Law não lhe trouxe consequências de monta. Exilou-se em Veneza, onde morreu como homem rico. A impunidade das elites financeiras atravessa países e a história.
Conclusão
Amiúde encontram-se interpretações de Marx que o apontam como um proto-monetarista, resultado de uma leitura do capítulo III do primeiro volume, onde discute a moeda enquanto forma geral do valor que pode ser uma mercadoria. Além de se ignorar uma vasta literatura marxista, ignora-se o que o próprio Marx escreveu sobre a relação entre moeda, crédito e capital. Para lá da atualidade da análise no entendimento de como funcionam os mercados financeiros, a análise marxista do crédito e da moeda converge com a análise histórica aqui referenciada. As formas que hoje encontramos de instrumentos, mercados e instituições financeiras não são o resultado de uma qualquer essência transhistórica da moeda, mas sim dos imperativos do desenvolvimento do capital e dos mercados desde a aurora do capitalismo. Não podemos compreender a acumulação de capital sem a esfera financeira, nem o seu contrário.
“O Capital” apresenta uma perspetiva histórica da moeda, crédito e o capital portador de juro, em que estes evoluem com o capitalismo, numa espécie de pirâmide de crédito. Na base está o crédito comercial, essencial no nascimento e desenvolvimento dos mercados nacionais e internacionais, como mostra a realidade do século XVII. Resultado da acumulação de capital generalizada e da necessidade permanente de investimento, surgem os bancos, prestadores de crédito generalizados na economia. Estas novas instituições concentram informação e poder, fornecendo a confiança necessária ao crédito, que agora alcança maior grau de abstração face ao crédito comercial (o banco consegue comparar o crédito ao Nuno para comprar casa com o crédito à Microsoft para comprar a Activision Blizzard). Num degrau acima temos os mercados monetários, de crédito entre instituições financeiras, que beneficiam de um maior grau de abstracção. No topo da pirâmide colocaríamos os bancos centrais contemporâneos, ausentes no tempo de Marx, com vasta informação sobre tudo o que se passa numa economia e o monopólio da emissão monetária em espécie. Estas instituições públicas servem de emprestador de último recurso a bancos e de estabilizador dos mercados monetários.
Se a discussão de Marx no capítulo 25 do volume III sobre crédito e a sua evolução histórica encontra respaldo na análise histórica, existe aqui uma ausência parcial: o Estado. Marx faz um aviso inicial nesse capítulo: está sobretudo interessado na dinâmica do capital no desenvolvimento do crédito comercial e bancário, não no seu desdobramento no crédito público. Curiosamente, algumas páginas à frente, é afirmada a importância do apoio do crédito público nas notas de papel emitidas pelos principais bancos. De facto, como a história económica aqui revista mostra, o Estado é central no suporte ao nascimento do capitalismo. O Estado foi (e é), smultaneamente, moldado nas suas instituições e atuação pelas necessidades e contradições do capital.
Felizmente, para lá da história económica temos hoje uma crescente literatura académica de economia política sobre as diferentes configurações do Estado na sua relação com o capital em geral, e com os mercados financeiros, em particular, por exemplo, em conceptualizações como “Estado de redução de riscos” ou “capitalismo de Estado”. O Estado e a sua monopolização monetária (sobretudo depois do fim do padrão-ouro nos anos setenta), o seu papel na construção de títulos e mercados financeiros e as suas instituições, como os bancos centrais, são pistas essencial para compreender a dinâmica contemporânea de acumulação de capital e do conflito social. No entanto, como muitas vezes acontece no atual contexto de moeda puramente fiduciária, sem lastro numa mercadoria, o papel do Estado na gestão monetária e nos mercados financeiros não deve ser tomado como potencial poder absoluto sobre a economia. Como a história económica mostra, o poder monetário não está desligado da estrutura subjacente de criação, captura e distribuição de valor na economia de cada país. De fato, as relações de poder entre Estados são cruciais para explicar porque as moedas nacionais não são todas iguais. O “privilégio exorbitante” do dólar americano não é mais do que uma versão exacerbada do poder imperial da libra no século XVIII e XIX. Qualquer alteração política da gestão monetária eficaz implica também mudanças profundas nos mecanismos nacionais e internacionais de produção e distribuição de valor.